A estória de hoje, tal como a de uma vida, inicia-se em Alvalade. Estamos nos idos de Julho, apesar do tempo não estar especialmente quente. Saio de casa, passo a praça de Alvalade e chego à Reis de Portugal #08 – D. Pedro I. Foram centos de vezes, as que vi aquelas pedras de calçada, aquela escolinha primária de outros tempos, ainda activa, servindo geração após geração. Os meus irmãos, lá para meados da década de 50, aprenderam ali a ler e escrever. Eu, não. Mas entrei nas instalações um punhado de vezes, quando nos meus dezassete anos devorava quilómetros de pista ao serviço de um pequeno clube de atletismo que tinha um protocolo com a escola para usar o seu ginásio.
O destino seguinte é um dos segmentos da rua das Murtas, aquela via que abraça o antigo Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos, seguida diariamente e desde há décadas por condutores apressados, a caminho ou de regresso dos seus postos de trabalho, muitos sem sequer fazerem uma ideia do nome da rua. Mas eu sei, porque não só segui os seus passos como vivi ali a umas centenas de metros. E a primeira vez que me recordo de ter pisado o seu passeio foi muito, mas mesmo muito tempo antes de uma comunidade de ciganos ter ali assentado arraial para não mais sair, hoje instalados num par de edíficios para si construidos ao bom estilo de habitação social.
O que eu não sei é do que tinha mais pavor: se, uns anos mais tarde, de ver o meu carro avariar-se defronte dos olhos expectantes da “ciganada”, se nos primórdios, quando descobri que o que se encontrava no final da passeata à qual a minha mãe me conduzia pela mão era uma freira endominhada com uma seringa na mão, aguardando para ma espetar nas tenras carnas em nome de uma saúde que eu não compreendia. E foi ai, à beira desse tenebroso convento – mais sombrio ainda para um meu irmão que estudou ali em regime interno no início dos anos 50 – que fui encontrar a Reis de Portugal #16 – D. Sebastião. Uma daquelas caches que apenas coincidentemente desempenhou um papel mais interessante do que o de adicionar um “found” à contagem dos que ali param o carro à beira, naquele local desolado sem eira nem beira.
Seria ali que o meu plano me levaria para um traçado mais convencional, de regresso à Avenida do Brasil e a outras paragens. Mas havia caches ali tão perto… a tentação, a imensa tentação… porque não desafiar a sorte e encontrar uma passagem que servisse o raro trânsito de um peão naquele emaranhado de vias rápidas e acessos que abraçam a Segunda Circular? E a ALTA DE LISBOA ali tão perto. E depois, mais outra, logo acima. Ficou decidido. O dia ia decorrer de forma bem diferente do que o esperado.
Ao aproximar-me daqueles enormes letras… ALTA DE LISBOA… senti-me transportado para diferentes níveis do passado, em simultâneo. Fui até meados dos anos 80, quando tantas vezes conduzia o meu Ford Cortina 1600 GT por ali, por estradas que já não existem, demolidas pelas fabulosos obras de urbanização deste mega-projecto frustrado. E até finais dos anos 90, quando me foi encomendada a elaboração do primeiro website dessa Alta de Lisboa que então existia apenas no papel. Enquanto trabalhava pela noite dentro, com os planos das primeiras urbanizações das quais me recordo apenas do romântico nome de Quinta das Conchas, estava longe de imaginar que tinha entre mãos a génese do monstro que iria destruir uma vasta parte de Lisboa tal como eu a conhecia. Aquelas quintas centenárias, os campos sem fim, e também os menos charmosos bairros de lata da Musgueira. As ruas e estradas que dominava como a palma da mão, em breve seriam substituidas por vastas alamedas usadas por quase ninguém, vítimas do colapso demográfico que já então se devia adivinhar, consequência dos hábitos da vida urbana de passagem de século e do corte no fluxo do meio rural para a grande cidade em consequência do esgotamento dessa matéria-prima que são as pessoas com energia e interesse em mudar de vida.
Caminhei em direcção à Quinta da Musgueira Sec.XVIII com a surpresa do testemunho no terreno daquilo que já conhecia da fotografia aérea. Esta nova cidade, materializada ali como que por artes mágicas aos olhos de quem deixou passar uma década e meia sem uma visita. A Quinta da Musgueira teve um impacto sobre mim. Que coisa mais bizarra aquela, um pedaço do passado cristalizado no meio de um futuro suspenso que provavelmente nunca será. Aquele pórtico, encimado por esferas de pedra que já tanto viram e que agora dizem bom-dia a cada nascer do sol às torres fajutas que as rodeiam. Posso imaginar os tempos dificeis que tiveram os proprietários da quinta durante os tempos de ouro das barracas da Musgueira, que testemunhei e vivi. Recordo-me de uma noite, ainda antes de ter um carro que pudesse conduzir, em que eu e um par de amigos perdemos o último autocarro da Charneca para o Campo Grande, e que, portanto, tivemos que nos fazer à estrada. Ao chegar à central da Carris da Musgueira pensámos poder apanhar um qualquer autocarro perdido que se movesse em circulação irregular. Enquanto esperávamos defronte da cancela, começaram a chover pedras, vindas de um alto que ainda lá está (ou foi rebaixado ou a memória de um momento de tensão o tinha avolumado), arremessado por habitantes de todos os tamanhos e idades, impulsionados por ódio social e sentido territorial. Concentravam-se defronte do bar ou sede do glorioso Águias da Musgueira, e privados de outra actividade desportiva, practicavam agora o arremesso de pedra aos desconhecidos-claramente-de-bairros-priviligiados.

Mais ou menos deste ponto partiu o apedrejamento da Musgueira
Na minha ingenuidade, pensava que a Alta de Lisboa era um bairro moderno entregue a gente de bem, filhos de uma classe média e média alta, como indiciaria a localização central e a construção recente dos edíficios. Uma espécie de Parque das Nações em segunda versão. Afinal já tinha estado na Quinta das Conchas e mais coisa menos coisa foi esse ambiente que ali fui encontrar. Mas afinal não. Há também uma face negra na nobilissima Alta de Lisboa, e senti-a ainda antes de a penetrar. Aquelas sentinelas na extremidade de cada rua eram afinal as mesmas, umas gerações à frente, que se posicionavam nos acessos do bom velho bairro da lata. Hesitei quase imperecetivelmente antes de continuar a caminhada, mas afinal os anos de experiência ensinaram-me bastante sobre sentir os ambientes e lidar com eles. Longe vão os tempos em que a menção a Musgueira se equiparava à promessa do Inferno na Terra.
Passei por aquelas ruas onde se aglomeravam idosos reformados e jovens entregues a actividades pouco lícitas. Carros de aspecto suspeito, crianças ranhosas, ciganos de reputação duvidosa, casas envelhecidas precocemente, lixos acumulados nos campos, tudo isto enquadrado por restos do mundo anterior. Já o Águias da Musgueira evoluiu bem, com um complexo desportivo de fazer inveja a muita gente, campo de relva sintética que faz esquecer o pelado de outros tempos.
Quando me afastava, um jornal passou por mim, esvoaçando, uma versão para pobres daquele saco de plástico de American Beauty, e enquanto se afastava, sorriu para mim, e mostrou-me o que tinha a dizer, em paragonas de primeira página: “Desilusão, Tristeza e Lágrimas”. Como é que aquele objecto inanimado definiu daquela forma genial o momento e as redondezas, no seu passado, presente e futuro?

Apanhei o jormal mais à frente, quando recuperava fôlego dos volteios no ar.
Sai pelo outro lado, já muito perto da RSB Aeroporto – Fire Department/Bombeiros, e reparei com surpresa que estava a pisar o asfalto da movimentada estrada que nos meus tempos vinha desde a Segunda Circular e servia todas aquelas populações e outras adiante. Hoje practicamente não tem trânsito, usada apenas por aqueles que se deslocam às ruas desoladas na nova Musgueiras que há-de ter um nome pomposo como Quinta-Não-Sei-Das-Quantas. Foi uma surpresa das grandes e das tristes. Que saudade daqueles tempos que foram de ouro para e estrada e para o cronista.

“(…) a pisar o asfalto da movimentada estrada que nos meus tempos vinha desde a Segunda Circular e servia todas aquelas populações e outras adiante. Hoje practicamente não tem trânsito.”
Por fim a mencionada cache. Colocada, creio, junto ao local onde existiu uma virtual que foi das primeiras de Portugal, lá para 2002. E do sítio onde se desenrolou um dia um pequeno drama pessoal, uma relação de sete anos de idade terminada ali mesmo, num descampado que se estendia um pouco mais em direcção às pistas do aeroporto e que como tantas outras coisas destas paragens desapareceu para dar lugar a algo diferente.
Nem queria acreditar que tinha caminhado até ali. Eram quase 5 km, sabia-o bem, de outros tempos, olhos postos no conta-quilómetros quando a gasolina, se bem que infinitamente mais barata (0,30 Eur) tinha um custo real muito superior, um luxo reservado para dias especiais. Estava agora a entrar na Charneca, e ia encontrar na LISBON AIRPORT- Plane Spotters 17 um pouso muito curioso, nunca canto nunca explorado, por estranho que me parecesse. Uma vista gloriosa para os aviões, com direito a um trio de poltronas improvisados. Mas foi um triste DNF, o que me motivou para a multi-cache Parque do Amor que já tinha colocado de fora das intenções, por ser demasiado longe e por ser uma multi-cache. Mas afinal era já ali à frente, e assim como assim, já que o dia não tinha começado por seu uma caçada às memórias para tinha por ai evoluido, porque não palmilhar mais uns quilómetros e abrir o bau maior.

Uma das poltronas improvisadas, para ver os aviões passar.
Charneca. A inesquecível Charneca. Aquela relação, terminada aos sete anos de idade, mencionada ali atrás, vivia, por assim dizer, por aqui. No Bairro dos Sete Céus, um pouco escondido de quem passa por este espaço. Quantas noites me viram por aqui andar, vindo de um serão, à vez cheio de paixão, de sonhos e de expectativas, de descoberta mútua e conversas sem fim… outros eram serões de arrufos, de discussões vindas da inevitável colisão de personalidades, de medos, inseguranças e ciúmes. Mas a memória é assim, benévola, e mesmo esses momentos de raiva lhe ficam marcados com uma saudade….
As noites daquele primeiro Verão, o de 1984, são as de mais doce memória. Às vezes vinha sozinho, outras, com o Augusto ou o Tó Maia; a namorada do primeiro também ali vivia, e a do segundo era amiga inseparável das outras duas, de modo que se formava ali um grupo com pouso pontual nos Sete Céus.
Nos anos 80, e provavelemente nos 90, não havia tal coisa como um Parque do Amor. Eram terrenos baldios, que se atravessavam por um ou dois trilhos bem pisoteados pelos que iam de casa para a paragem de autocarros e de regresso. A tempos, viam-se ali festas de casamento cigano que duravam dias a fio. No bairro junto ao vértice mais distante do agora Parque, constituido por três ou quatro torres vivia um casal-modelo que eram, de forma mais pontual, parte do grupo: o Timóteo e a São.
Percorri aquele espaço tão bem requalificado, recolhendo os elementos para resolver a multi-cache. Correu tudo bem, e enquanto ia para cá e para lá, ia desenvolvendo aqueles “flashbacks”. Ouvia o assobiar expedito daqueles autocarros – os “laranjas” – que faziam a rota 1 e 17. E sentia-me a entrar e mandar-me com pompa para o melhor lugar disponível, preparando-me para uma viagem alucinante, como sempre o eram aquela hora, até Alvalade ou lá perto. O via-me sentado ali à beira, olhando para o relógio pela centésima vez na última meia-hora, esperando, sempre, por ela, que mais uma vez estava atrasada, e da emoção de a ver chegar, com aqueles olhos rasgados de chinesa que não era, e o enorme sorriso.
A cache foi encontrada com sucesso. Estava naturalmente cansado, e sabia que tinha o caminho de volta à minha espera, ainda com mais umas quantas a que deitar unha. Mas não consegui resistir. Estava ali tão perto, tinha que ver, pela segunda vez desde há vinte anos, aquele bairro que quase foi a minha casa durante tanto tempo.
Atravessei a Azenha dos Milagres, que era uma passagem estreita, claustrofóbica, dominada por uma pela casa apalaçada, a Quinta dos Milagres. A casa ainda lá está, em surpreendente bom estado, mas o muro do lado oposto foi todo derrubado, e agora aquela atmosfera opressiva de quem corria perigo só por lá entrar desvaneceu-se. Mais flashbacks, de nada em especial, para além de mim a lá passar vezes sem conta. Uma vez, no dia em que regressei dos meus testes para admissão aos pára-quedistas,em Tancos, meti ali o carro, como costumava fazer. Mas vinha alguém em sentido contrário. Tive que recuar e raspei a pintura toda. Foi violento e ficou-me na memória.
Dou de caras com as sete ruas dos Sete Céus, trepando aquela colina que ali está desde sempre. No seu sopé, o campo da bola do Charneca está reduzido a uma ruina sem fim. Vejo o primeiro patamar, onde numa noite de santos populares eu e os meus amigos tivemos que enfrentar mais um extremo de territorialismo da rapaziada local, dessa feita terminando tudo em bem, entre abraços e convites para experimentar as sardinhas.
Subo o eixo principal, o que dá acesso a todas as ruas do bairro, imaginando sem na verdade saber o que iria encontrar no topo. Onde me lembrava de ver campos sem fim, há agora casas e urbanizações igualmente sem fim. E para todos os lados. Todas aquelas tardes preguiçosas no terraço do primeiro andar, nas carícias e abraços dos doce dezoito anos, não poderam ser hoje o mesmo… de novo, a bucólica paisagem marcada por campos e quintinhas deixou de existir. A ilha de paz que era o bairro dos Sete Céus transformou-se num castelo cercado. A perder de vista existem torres residenciais e o asfalto cortou de morte a paisagem natural que ali estava antes do virar do século.
Decidi passar em frente da casa. E ia pensando o que seria daquela gente, dela e da irmã, e dos seus pais. Queria tirar uma fotografia da casa, nem sei porquê, talvez para ter uma memória visual para abraçar em dias de especial nostalgia. Mas de repente, aconteceu algo surpreendente: um senhor conversa com um grupo de pessoas que está na varanda de uma casa, e naquele segundo vejo-a e não posso compreender como ninguém mudou… nem ela, nem o pai, ao seu lado… as outras pessoas já não pude ver, porque quis passar anónimo e se olharam para mim e não me reconheceram, vinte e tal anos depois, não quis desafiar a sorte e passei à distância, captando uma nota solta daquela voz que nunca será esquecida.
O encontro deixou-me abalado. É violento, quando estamos placidamente a visitar o nosso passado, e sem aviso o passado transforma-me em presente, e tudo se confunde, deixa de fazer sentido. As referências ficam invertidas, há uma intrusão, um choque de mundos. É como passear por um museu e num instante os figurinos e tudo o resto ganhar vida.

Nós, há muitos, muitos anos atrás
Durante um par de quilómetros caminhei distraidamente, de forma automatizada, sem mais nada ver e com o pensamento desordenado, fazendo um esforço para repôr as coisas nos seus lugares naturais. Acho que não o consegui, nem mesmo à medida que encontrava as caches Avião vai, Avião vem…, L.N.E.C., Parque Desportivo São João Brito e Antigas Instalações Emissora Nacional/RDP. a caminho de casa. Foi preciso chegar a noite, e os sonhos, para a mente reganhar alguma ordem e acordar no dia seguinte, já com o passado que na véspera se tinha transformado em presente de novo na sua posição devida… lá está, a de passado, mesmo que um passado com apenas umas horas de distância.

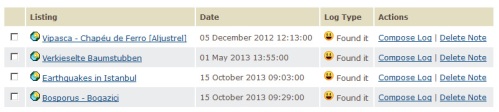
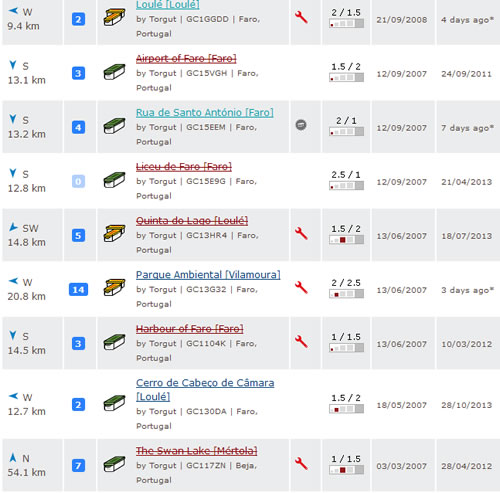
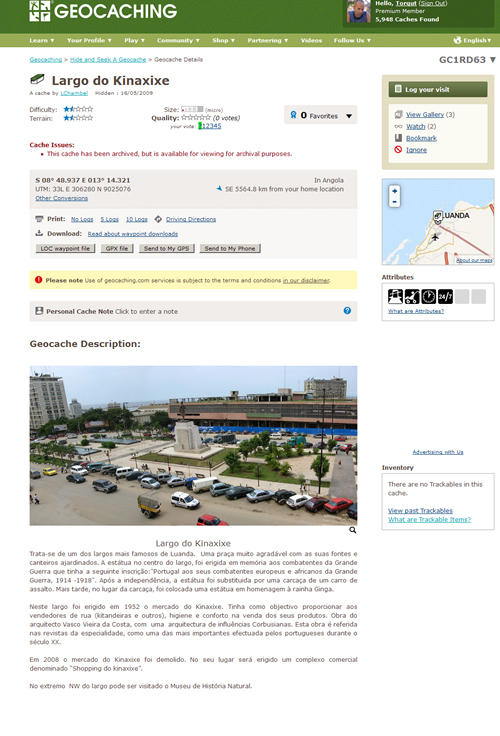





























 Foi assim que cheguei a Brotas e encontrei a bela
Foi assim que cheguei a Brotas e encontrei a bela 
















